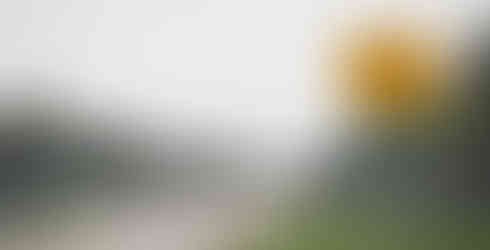Atualizado: 16 de jan. de 2023
Estudo conduzido nos EUA, por brasileira, apresenta metodologias para mitigar o atropelamento de animais silvestres no nosso país..
Preparado por Tatiana Nepomuceno - Jornalista do Projeto Mulheres na Ecologia
Revisada por Elvira D'Bastiani - Ecóloga do Projeto Mulheres na Ecologia
Fotos: Acervo pessoal Eleonore Setz.
Uma estimativa parcial realizada pelo Sistema Urubu, indicou que 17 animais morrem nas estradas brasileiras a cada segundo. Diariamente são mais de 1,3 milhões de animais mortes e até 475 milhões de vidas selvagens são perdidas anualmente. O Sudeste e o Sul são as regiões com maior número de registros de atropelamentos. Apesar destes dados serem atuais (2022), já em 1999 a pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Eleonore Setz, estava antenada neste problema e quando as pesquisas sobre atropelamentos de animais em rodovias ainda eram incipientes no Brasil; a cientista embarcou rumo a Geórgia (EUA) para conhecer a fauna desse estado e estudar os fatores envolvidos nos atropelamentos de animais silvestres. “Eu já conhecia o estado da Geórgia quando combinei um pós-doc junto à Universidade da Geórgia, em Athens. Contudo não conhecia a fauna deste ambiente temperado e achei que investigar atropelamentos poderia ser uma forma de conhecê-los”, comenta Setz.
“Na época não havia GPS e, neste sentido, não dava para plotar os pontos de ocorrência num Google Earth. Identifiquei mais de 30 espécies, 80% mamíferos (veado e raposa cinzenta, por exemplo), 11% répteis (jabuti, cobra-de-vidro, e várias serpentes) e 9% aves (coruja e muitos passarinhos)”, relembra. “Voltando ao Brasil co-orientei um doutorado sobre atropelamentos em Franca (SP) e Araxá (MG). Nos EUA, cheguei a acompanhar excursões para visitar passagens de fauna, em combinação com os congressos da Conferência Internacional sobre Ecologia e Transportes (Icoet) e pude observar várias alternativas nos Estados Unidos (EUA) para preservar a fauna de atropelamentos”, relembra a pesquisadora.
De acordo com a pesquisadora, nos EUA as soluções variavam entre os Estados federativos. No Arizona, por exemplo, aproveitavam o relevo para fazer viadutos e deixavam um vão livre para passagem da fauna. “O próprio relevo e cercas orientavam a fauna para a passagem e havia também escapes nas cercas, caso o animal entrasse nas faixas de rolamento”, recorda a pesquisadora. “Já nos Everglades, sul da Flórida, as soluções iam desde passagens da fauna sob a estrada (levemente levantada e acompanhadas por cercas condutoras de 3m), até sinalizadores luminosos e sonoros quando animais com colares de rastreamento se aproximavam da estrada”, explica ela. Este conhecimento adquirido permitiu à cientista discutir e ajudar a consolidar propostas que mitiguem os atropelamentos de animais silvestres no Brasil. “Embora hoje em dia já existam especialistas pesquisando especificamente atropelamentos e a eficácia de passagens da fauna no país”, conta a pesquisadora.
Setz afirma que, apesar de existir muita literatura sobre a eficiência dos diversos tipos de prevenção aos atropelamentos, ainda faltam iniciativas e interesse público para evitá-los no nosso país. “As diferenças entre os custos acerca das alternativas para prevenir atropelamentos da fauna silvestre são grandes e ninguém quer investir a menos que sejam obrigados nos projetos de duplicação, como na Rodovia dos Tamoios, no litoral de São Paulo e na estrada para os lagos no Rio de Janeiro, por exemplo” explica a cientista.
Ainda, de acordo com a pesquisadora, quando há algum tipo de intervenção elas são por vezes escassas ou insuficientes. “Em alguns trechos da Rodovia Dutra (SP) há cerquinhas de pífio 0,5m de altura, com cartazes sobre ações contra atropelamentos de fauna pela concessionária. Estas placas dão consciência do que existe por ali, de espécies da fauna, mas não acredito que tenham um papel significativo na prevenção dos atropelamentos. Depois de um tempo o motorista não presta mais atenção. Já registrei atropelamento de lobo-guará na Dutra, muito triste”, ressalta Setz.
Por isto, é preciso mais! Alternativas como passagens de córregos associadas a continuidade das matas de galeria (determinadas pelo código florestal) proporcionariam um avanço incrível na mobilidade da fauna terrestre. Há também vários tipos de passagens para espécies arborícolas que poderiam ser repensadas.
De acordo com Setz, utilizar das atividades da rede hidrográfica e do Código Florestal para cuidar das passagens e corredores de fauna associados aos córregos seria o start inicial “As pontes pré-fabricadas seriam um bom começo, pois permitiria a passagem livre da água, com margens secas para o trânsito e conexão da fauna. A naturalidade destas passagens poderia, talvez, até prescindir de cercas condutoras, pois a mata de galeria e a água já mostrariam o caminho. Melhor ainda se evitássemos cortar fragmentos florestais, unidades de conservação, terras indígenas com linhas de transmissão, rodovias e ferrovias. Embora as curvas pudessem tornar este caminho mais longo e caro financeiramente; o caminho seria menos monótono e a paisagem mais variada para os diferentes transportadores”, acrescenta Eleonore.
E o que isto afeta a minha vida?
Muito simples! Atropelamentos da vida silvestre podem causar desequilíbrios ecológicos que afetam diretamente o ser humana. Sabe como? Em determinadas localidades, a perda de espécies pode ter um impacto muito grande sobre a biodiversidade e desencadear um desastre ambiental. É que quando pensamos nos atropelamentos de onças pardas, pintadas (espécies simbólicas do Brasil) ou outros predadores de topo que conseguimos traçar o nexo causal e suas consequências diretas ao ser humano.
Pense! “O que a onça parda come? Filhotes de capivara e tatus, por exemplo. Sabemos que uma superpopulação de capivaras acaba sendo associada a uma infestação maior de carrapatos e casos de febre maculosa em humanos, e alguns casos levando a óbitos. No caso dos tatus, uma superpopulação pode ser associada a um aumento de casos de leishmaniose”, explica Eleonore. “Assim, preservar estes predadores é preservar seus serviços ecológicos. Não devemos subestimar esta missão tão importante. No caso dos frugívoros (espécies que se alimentam somente de frutas), precisamos considerar seus serviços de dispersão de sementes na regeneração da vegetação. Ou seja, também não devemos subestimar a importância dos serviços destes frugívoros, e assim por diante. Estes valores não são contabilizados nos atropelamentos e muito menos os efeitos das estradas na separação de populações, na redução do fluxo gênico”, finaliza Eleonore.
O desenvolvimento sustentável e bem-estar animal: Brasil na contramão do mundo
Enquanto o resto do planeta se une em defesa da fauna e reconhece o seu valor enquanto pilar de sustentação da biodiversidade e saúde do planeta, o Brasil insiste em direcionar seus esforços rumo a uma matança predatória contra o meio ambiente. Isto porque enquanto o país pensa em formas de fomentar a destruição predatória e desenfreada da nossa rica fauna e flora (com a retomada da PL 5544/2020 e de tantas outras regras de “proteção ambiental”, que nada tem de proteção); o resto do mundo se une em prol da defesa do meio ambiente e da fauna e flora.
Recentemente o encontro realizado durante 5a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente (com 193 países membros da ONU, empresas e sociedade civil, em Nairobi/Quênia) emitiu resolução que faz referência explícita ao bem-estar animal. De acordo com a proposta não há como pensar em conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável sem levar em conta o bem-estar das milhões de espécies de animais do nosso planeta. O texto da resolução solicita ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) que produza um relatório com a colaboração da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), sobre a relação entre bem-estar animal, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
O documento deverá identificar parceiros, partes interessadas e será apresentado para tomada de decisão dos Estados membros com relação a ações que visem a proteção dos animais, seus habitats e o cumprimento dos requisitos de bem-estar animal. De acordo com o chefe de biodiversidade e terra do Pnuma, Doreen Robinson, a exploração insustentável e o consumo excessivo de animais estão ligados às três crises interrelacionadas de perda de biodiversidade, mudança climática, poluição, e também estão ligados ao aumento do risco de doenças zoonóticas. “O bem-estar dos seres humanos, dos animais e do planeta estão ligados. Quando paramos de degradar a natureza, também reduzimos os riscos para a saúde humana”, pontua Doreen.
Portanto, pare e pense nas consequências para a sua vida diária se a PL 5544/2020 (que visa a retomada da caça desportiva de animais silvestres) é aprovada no Brasil. Em especial porque a prática inclui áreas com significativo índice de atropelamentos de animais silvestres e isto pode colocar, ainda mais, em risco a biodiversidade de espécies que são vitais para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas.
Se o mundo converge na proteção da fauna e conclui que sem ela é impossível conter a perda da biodiversidade, mitigar as mudanças climáticas, reduzir a poluição e o risco de novas doenças zoonóticas infecciosas (Como por exemplo, a gripe aviária ou o novo coronavírus), por que o Brasil tem que ir na contramão e permitir a aprovação da PL 5544/2020? Uma falácia soberba em um país sem um mínimo de controle e fiscalização: nem da caça e nem de atropelamento de animais silvestres em rodovias.
CONTATO DA PESQUISADORA:
Nome completo: Eleonore Zulnara Freire Setz
Titulação: pós Doc, Universidade da Georgia em Athens, USA.
Títulos dos projetos: Ecologia dos atropelamentos silvestres em estradas de três larguras e trânsito, e Ecologia alimentar de carnívoros em unidades de conservação no nordeste da Geórgia, USA
Fotos: Acervo pessoal Eleonore Setz
Endereço do instagram para marcação: @ lama_unicamp
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/6769041729814040
Termos de Uso
Todos os conteúdos, em todos os seus formatos (sejam textos, fotografias, imagens, dentre outros), presentes nas redes sociais do projeto @mulheres_na_ecologia, são protegidos por direitos autorais e de propriedade intelectual das respectivas pesquisadoras. É disponibilizada a reprodução, divulgação e distribuição, total ou parcial, de todos os conteúdos de divulgação científica publicados nas redes sociais do @mulheres_na_ecologia, sob prévia e expressa autorização e citação de crédito ao projeto @mulheres_na_ecologia. Por consequência, fica entendido que qualquer modificação dos textos publicados e disponibilizados não é de responsabilidade do projeto @mulheres_na_ecologia, não sendo este responsável civil e/ou criminalmente pelo uso ou publicação indevida e não autorizada de seus conteúdos. O projeto @mulheres_na_ecologia pode, a qualquer momento e a seu critério, modificar ou atualizar este Termo de Uso.